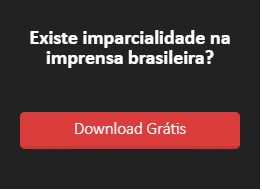Fotos Públicas: Rafael Ribeiro / CBF (19/07/2015)
Ainda não foi dessa vez que elas venceram a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Mas, mesmo eliminadas do mundial no jogo de ontem, 21, contra Austrália, durante as oitavas de final, a seleção brasileira de futebol feminino sai de cabeça erguida, não apenas pelo único gol sofrido durante todo o campeonato, mas por suas belas jogadas e garra, muita garra. Afinal, ainda que o Brasil seja o país do futebol-ostentação, não é nada fácil o tratamento dado às mulheres que querem se profissionalizar nesta modalidade esportiva. E ainda que pouco se fale disso na mídia ou nas mesas de bar, em meio às polêmicas que envolvem o futebol brasileiro e seus dirigentes, a copa feminina alerta para mais uma grave disparidade na modalidade esportiva: a questão de gênero.
No ano passado, 20 clubes participaram do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, de setembro a dezembro. Entretanto, a última edição havia sido feita em 2001; depois disso, apenas a Copa do Brasil, iniciada em 2007 e única competição para o gênero em nível nacional. Houve, ainda, três Copas Libertadores da América de Futebol Feminino no Brasil, em 2012, 2013 e 2014, mas todas com poucas equipes e baixa expressividade. Faltam talentos? Não é bem assim.
Emily Lima é técnica do São José, um dos principais times de futebol feminino do Campeonato Paulista. Para ela, a infraestrutura oferecida talvez esteja entre um dos principais agravantes. “Tem estádio que não oferece condições para dispurtarmos o Estadual na situação em que se encontra. Há poucos dias, por exemplo, jogamos em Taubaté e não tinha água nem luz. Isso dificilmente aconteceria no masculino, principalmente para as equipes da série A”, conta.
A técnica lembra que a defasagem de investimento não está apenas na infraestrutura oferecida para as equipes, mas também nos baixos salários e pouco interesse das marcas, que não compram a modalidade. “Como vai ter campeonato se não tem equipe? Como vai ter equipe se não tem patrocinador? Como vai ter patrocinador se não há incentivo para que as marcas invistam no futebol feminino?”. Carências que, para Emily, se interligam e causam resultados negativos no cotidiano prático das atletas.
A Caixa Econômica Federal, por exemplo, é patrocinadora do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e investiu, no ano passado, R$ 10 milhões na realização da competição que envolveu 20 equipes de 10 estados brasileiros. Para uma breve comparação, em 2015, a mesma Caixa destinará R$ 30 milhões somente para um clube de futebol, o Corinthians.
Atualmente, há 27 federações estaduais de futebol. Só que, na mídia, os holofotes do esporte continuam brilhando apenas para atletas do masculino. A jornalista especializada em futebol feminino Luciane Castro explica como a abordagem dada pela mídia tende a ser superficial e falha. “É briga com cachorro grande o tempo todo, porque os grandes veículos insistem em tratar a modalidade como um estorvo. Em épocas como agora, de Copa do Mundo, falam, mas com erros grotescos de informações e abordagens que já passaram do tempo. Os grandes veículos poderiam colaborar sendo mais respeitosos, apenas. Se vai falar sobre a modalidade, que fale o correto, que fale de futebol e não da beleza das jogadoras.”
Luciane se refere a recente fala do coordenador de futebol feminino da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Marco Aurélio Cunha, que deu uma declaração ao jornal canadense The Globe and Mail afirmando que beleza, elegância e feminilidade são alguns dos fatores que podem colaborar para que o futebol feminino receba maior atenção. Marco Aurélio não falou de talento. Tampouco de políticas públicas para o Esporte, ou investimento nas categorias de base para formar novas atletas. Ele falou de beleza.
Vale acrescentar que até mesmo movimentos como o Bom Senso F.C., que discute o atual futebol brasileiro, não tem representatividade feminina – nem com mulheres participando do próprio movimento nem na construção de um movimento desta linha, mas idealizado e liderado por elas. Assim, fica ainda mais difícil lidar com questões relacionadas à misoginia, desvalorização profissional e falta de incentivo dado às atletas. Não há acompanhamento. Não existe piso salarial para jogadoras. E não há sequer uma legislação específica ou a aplicação da já existente Lei Pelé.
Mas o incentivo foi sempre fraco assim? Na realidade, foi até pior. Oficialmente, a primeira partida de futebol feminino no Brasil foi em 1921, entre mulheres dos bairros Tremembé e Cantareira (atual Santana), zona norte da capital paulista. Desde a época, o esporte era considerado impróprio para as damas, ficando a mulher restrita aos papéis de madrinhas de clubes ou atrativos de torcida. Fazemos um salto para a década de 40 e… dá para ficar pior:
“O exagero era tanto que jogadoras de uma partida ocorrida na década de 40, em São João da Boa Vista (SP), mereceu excomunhão da Igreja Católica. Já em 1941, aconteceu o primeiro jogo masculino apitado por uma mulher, num amistoso entre o Serrano de Petrópolis contra o América do Rio. Na ocasião, o árbitro passou mal e uma atleta da partida preliminar ao amistoso assumiu o apito.” (Futebol Feminino no Brasil: A história)
E como desagradava famílias conservadoras, também na década de 40 foi feito um decreto-lei do Estado Novo, com Getúlio Vargas, proibindo a “prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina”, para mantê-las afastadas dos gramados. Curioso: o mesmo governo que decretou o voto feminino (em 1932 parcialmente e em 1934 sem restrições) proibiu as mulheres de jogar futebol. O decreto caiu em 79. Quase quatro décadas depois, o futebol deixou de ser proibido para as mulheres, mas segue com passos lentos, cheio de obstáculos e preconceitos.
Maria Luiza Gimenes, 21 anos, é um exemplo de atleta que teve que largar sua paixão após passar por diversos times e conhecer a triste realidade profissional. Malu começou a jogar futebol profissional aos 14 anos; seu último time foi a Portuguesa, onde atuou como goleira até o início de 2014. Na Lusa, foi suplente de Andreia Suntaque, ex-Seleção Brasileira. “Eu treinava na Portuguesa todos os dias, das 9h às 12h. Pela tarde, trabalhava na Associação Paulista de Futebol e, em alguns finais de semana, era representante de arbitragem”, conta. Como as partidas em que Maria Luiza atuava pela Portuguesa eram praticamente todas aos domingos, de março até o fim do ano, eram raros os dias de descanso. Tudo para manter-se no futebol.
Na Portuguesa, Maria Luiza morou em um alojamento junto a atletas vindas de diversas cidades do país. Elas tinham refeição e bolsa de estudos de 100% para faculdade. Entretanto, a estrutura oferecida, embora pareça básica, é rara e não representa a realidade brasileira. “Hoje, temos quase 100 times de futebol feminino no Brasil; destes, arrisco que apenas três ou quatro realizam o pagamento salarial correto das jogadoras e oferecem boas condições de treino”, afirma.
No mesmo período em que Maria Luiza desistiu do esporte, o goleiro Glédson, titular do time masculino da Portuguesa na época, recebia R$ 43 mil por mês (o atual goleiro é Felipe). Em outras equipes, a jogadora vivenciou ao longo do tempo um tratamento oferecido às atletas em que faltavam condições básicas, como hospedagem e alimentação. “Tem times que viajam só no dia do jogo, as mulheres precisam se trocar dentro do ônibus e até a alimentação é fraca”, diz. Com tão pouco estímulo, optou por encerrar a carreira. “Quando jogava, tinha o apoio da minha família, mas tomei essa decisão porque eu percebi que dedicava tanto da minha vida e não tinha retorno. Sempre somos tratadas abaixo, tanto dentro como fora do campo”, complementa.