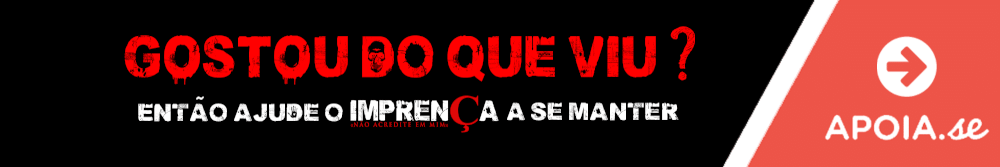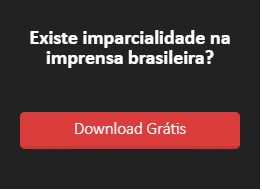Imaginem esta cena, hipotética com elementos reais.
Um craque alemão é, inusitadamente, comprado do Barcelona para atuar no Fortaleza, o tricolor cearense. Ele chega felizão e é recebido com tanto calor popular, tanto carinho, que encarna a representação mais popular e caricata de um cearense, mesmo tendo nascido em Dusseldorf. Ele torna, em 3 anos, o Fortaleza campeão brasileiro. Ele fala, na linguagem da bola mas também em português bem claro, que o Ceará e o Nordeste não deve temer o Sul. Manda seu novo povo ter orgulho.
Chega a Copa do Mundo no Brasil. Na semifinal, Alemanha e Brasil se enfrentam, e o jogo é no Castelão, em Fortaleza. Eis que ele pede a torcida da população local. “O Brasil vai pedir seu apoio hoje, mas amanhã voltará a rejeitar você, xingar o Bolsa Família, menosprezar sua origem”. Uma bomba. Os cearenses no estádio e fora dele, de fato, escolhem torcer pela Alemanha. Mesmo antes do 7×1.
Foi isso que Diego Armando Maradona fez em Nápolis, onde jogou seis anos de futebol e construiu a maior idolatria da história do esporte, que segue intacta mesmo décadas depois de sua aposentadoria.
Muitos napolitanos torceram pela Argentina, e não pela Itália, na semifinal do Mundial de 90. Ele bagunçou toda a relação de intimidação geográfica e social do país da bota. Esta intimidação que vemos no Brasil após as eleições seria, para ele, fichinha.
Dilma Roussef ganha o direito (e o dever) de ficar mais 4 anos na cadeira que ocupa, graças aos 2,5 milhões de votos conquistado entre os turnos na capital paulista. Não demora e uma gentona ensaia algumas palavras marotas, faz testes para ver qual causa um impacto melhor. Impeachment? Recontagem? Impugnação? Intervenção Militar? Os elos de aço (ou de chumbo) que ligam estas palavras são os preconceitos colaterais que tentam, num profundo esforço de generosidade, explicar ao país o motivo de alguém votar em alguém. Comprado, burro, interesseiro, acomodado, manipulado. Não estou dizendo nada que o amigo leitor e a doce leitora já não tenham visto por perto.
Em Buenos Aires não haveria de ser muito diferente, acontecesse lá um Lula, um Luizito Ignacio de la Silva vindo da província de San Miguel de Tucumán. Onde é vigente e estabelecido o sistema capitalista, está vigente e acomodado o discurso classista, geralmente na mesma proporção do tamanho da desigualdade social ali existente. Mas saibam que na Argentina existe uma quase unanimidade chamada Maradona, um personagem inacreditável, improvável, um ídolo errante, cambaleante, uma história de película que não faz o menor sentido em uma vida racional e real, tal qual um Lula atleta. E, vejam só: ele é de esquerda.
Tem uma tatuagem do Che, e uma do Fidel. Tem amizade com o segundo, também com Evo Morález, assim como foi um dos grandes parceiros dos últimos anos de Hugo Chávez. Trabalhou na Copa de 2014 pela TV estatal venezuelana, por gratidão ao comandante. Quando quase morreu do coração, quase explodiu de obeso e quase teve overdose de drogas, se tratou em Havana. Agora, pense alguns segundos: haveria como um cara com estas características ser querido no Brasil? O simbolismo de um ídolo seria engolido pelo ranço embandeirado de um lado da política? Creio que sim, e, se político pra você é tudo igual, ofereço o outro deus da bola: Pelé é escancaradamente de direita, foi clamorosamente neutro e se manteve afastado de problema por toda a Ditadura, vive ainda hoje ao lado do que há de sujo no futebol, e nem por isso é rejeitado por 51% dos fãs válidos.

Maradona brigou com o mundo tanto quanto foi seu próprio inimigo. Quando incitou Nápolis a ficar com ele e rejeitar a seleção italiana, sua paz no país acabou. Ninguém mais acobertou sua dependência química. Foi chutado para a cadeia, como dopado drogado. Correu contra o tempo para conseguir jogar a Copa de 1994. Uma moça do antidoping entrou em campo após o duelo contra a Nigéria e o levou embora de mãos dadas. A cena inédita no futebol precede a história mais carente de credibilidade das Copas. Maradona mais uma vez foi suspenso, chutado da Copa, desta vez sem ser culpado. Era a Copa dos Estados Unidos, que queria entrar no “soccer” de qualquer forma. Maradona era o passado indesejável. No banco de reservas do campeão Brasil estava Ronaldo, 17 anos, a imagem do futuro. O Ronaldo da convulsão de 1998, da recuperação de 2002, da obesidade de 2006, o Ronaldo do Aécio, da direita, poupado de tantas e boas ao longo da carreira (juro que a última palavra deste parágrafo não é uma indireta ao atacante brasileiro).
O Brasil nunca poderia ter um Maradona. Maradona nunca seria feliz em Milão. Assim como preferiu jogar no Boca ao invés do River que lhe pagava mais, para poder, assim, jogar com o coração e para o time mais popular, ele preferiu deixar o Barcelona para ser no Napoli alguém que Nápolis nunca teve, nem na bola, muito menos na política. Cidade dependente de uma máfia paralela, suja, pobre, ela encontrou a metáfora artística e rebelde ideal na figura de um camisa 10 que deu sonho a um povo, entregou a muitos pais a chance de dizer ao filho que a cidade era, apesar de tudo, boa, deu dignidade a um estilo de vida temperamental e voz a muita gente que já desconfiava ser até o futebol uma hegemonia eterna do poder contra a impotência.
Esta hegemonia, no Brasil, está, em ano de Copa e eleições, representada pelo Maracanã de Eike Batista (que cagada, Dilma Roussef) sem o cimento onde o Severino pouco via mas sentia o jogo do time que amava, traduzida nas vaias brancas filmadas para o Instagram na abertura e no desfecho dos jogos. É um país que finge que não, mas sabe bem da força do futebol. E por isso empurra tantos pra fora da festa. Aquele que não tem mais dinheiro para o ingresso, ou que não sabe mais se comportar em um estádio tão moderno, não é, afinal de contas, burro. Ele sabe que sai dalí (ou deixa de entrar) com a sutil percepção de que, se pudessem, lhe negariam também o direito de votar em uma visão de mundo que lhe interessa. Na dança das metáforas, falta um drible de Garrincha no estabelecido. Ou um drible de Maradona.
A diferença entre os dois gênios é que Garrincha, um índio que definhou alcoolizado e alienado como o país sempre quis que os índios definhassem, nunca incomodou aqueles que vocês sabem. Já Maradona, bem, lanço um desafio para você: procure em qualquer livraria, física ou virtual, uma biografia do Maradona em idioma português.
Leandro Iamin é jornalista esportivo, atualmente na rádio Central 3 (via web) como apresentador, produtor e comentarista, além de escrever em diversos blogs.